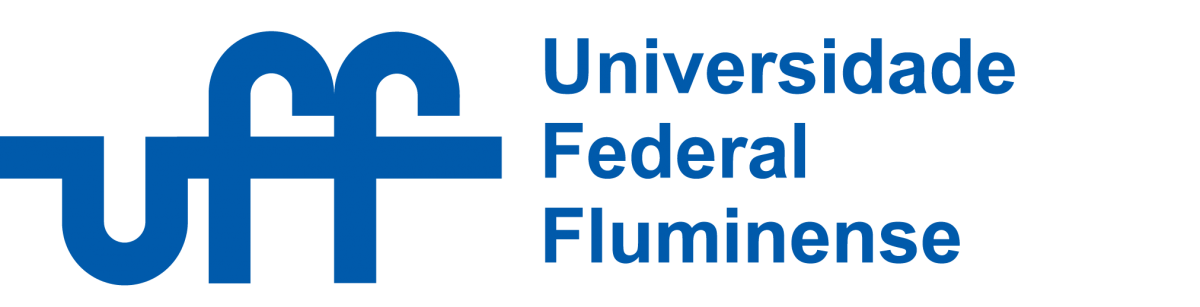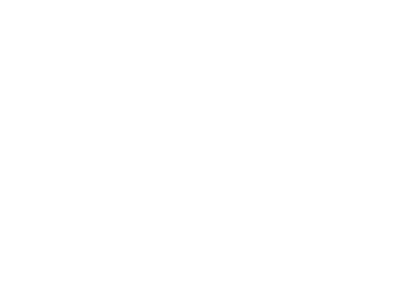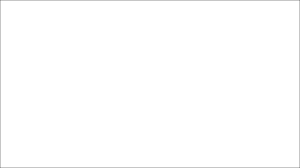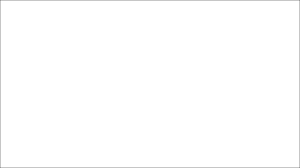CLOSTRIDIOSES – ENTEROTOXEMIA
Aqui você encontrará um resumo, mapas mentais, estudos dirigidos e materiais complementares sobre Clostridioses – Enterotoxemia.
MODO ESCURO
- INTRODUÇÃO
O gênero Clostridium foi primeiramente descrito em 1880 e desde então foram identificadas mais de 225 espécies distribuídas em áreas geográficas distintas.
São bastonetes Gram-positivos de 0,3-2,0 µm de diâmetro e 1,5-20 mm de comprimento, anaeróbios estritos, com arranjos aos pares ou em cadeias curtas, com as extremidades arredondadas ou pontiagudas, pleomórficos, Gram positivos no cultivo jovem e geralmente móveis por flagelos peritríquios.
Formam esporos ovais ou esféricos que deformam a parede celular. Se houver crescimento em ar, ele é pequeno e a esporulação é inibida. Metabolicamente são muito diversos com temperatura ótima entre 10º C e 65º C.
Os reservatórios naturais dos clostrídios são o solo e trato gastrintestinal dos mamíferos, porém apenas 10% das espécies são capazes de causar enfermidades nos animais.
O termo clostridiose é utilizado com frequência para designar genericamente algumas enfermidades causadas por microrganismos do gênero Clostridium. No Quadro 1 na seção ANEXOS, estão representadas as principais clostridioses que afetam os animais domésticos e seus respectivos agentes causadores.
Esses agentes estão amplamente distribuídos no ambiente (solo, poeira, água e trato intestinal de herbívoros). Possuem a capacidade de produzir esporos (forma resistente) quando em ambiente desfavorável, e voltar a forma vegetativa (em condições favoráveis). Essa forma vegetativa se multiplica e produz toxinas, porém é sensível a desinfetantes e calor. Na forma de esporo pode manter-se potencialmente infectante no solo por longos períodos (anos e até décadas), sendo resistente ao calor, fator de extrema relevância representando um risco significativo para a população animal e humana. Os esporos se mantem viáveis diante da presença de matéria orgânica em decomposição com ou sem umidade.
As clostridioses podem ser adquiridas através da ingestão de toxinas pré-formadas, pela ingestão de esporos que se depositam em tecidos como fígado e músculo, e em condições específicas voltam a forma vegetativa e produzem toxinas causando a doença, ou ainda, através de contaminação e multiplicação de ferimentos.
– Clostridium perfringens (C. welchii)
Tipo A – Infecções de ferimentos, enterotoxemia do cordeiro e suíno, “yellow lamb”. Seu papel em outras enterotoxemias é controverso e seu isolamento não é prova de doença.
Tipo B – Disenteria dos cordeiros, enterotoxemia dos bezerros, ovinos, caprinos e potros.
Tipo C – Enterotoxemia dos ovinos, bezerros, cordeiros e leitões.
Tipo D – Enterotoxemia em ovinos, cordeiros e caprinos.
– Clostridium novyi (C. oedematiens)
Tipo A – “Big head” dos carneiros e do Homem.
Tipo B – morte súbita em bovinos e suínos.
Tipo C – Osteomielite em búfalos (Indonésia).
– Clostridium septicum – Edema maligno nos equinos, bovinos, ovinos e suínos. Gangrena gasosa, “braxy” nos ovinos, “navel-ill” dos cordeiros, carbúnculo sintomático nos suínos e dermatite gangrenosa nas aves
– Clostridium sordellii – Em humanos é agente causador de gangrena e mionecrose, em ovinos está associado a quadros de mionecrose, gangrena e abomasite enfisematosa. Em equinos está relacionado à onfalites, com morte de potros de 12 a 21 dias de idade.
– Clostridium chauvoei (C. feseri) – Carbúnculo ocasionalmente nos suínos.
– Clostridium botulinum tipo C e D – Martas, cães, macacos, furões e diversas espécies de aves tais como ave doméstica e patos.
– Clostridium colinum – Enterite ulcerativa “Quail disease” em codornas, perus e galinhas.
– Clostridium spiroforme – Enterotoxemia espontânea ou induzida por antimicrobianos em coelhos.
– Clostridium villosum – Abscessos espontâneos em gatos.
– Clostridium difficile – Enterocolite induzida por antimicrobianos no hamster, coelhos e cobaias. Causa também enterocolite natural em suínos, potros e, no homem.
Enterotoxemia é o nome dado a enfermidade provocada por toxinas produzidas pelo C. perfringens no trato intestinal e veiculadas pelo sangue até o local de ação. O agente está presente no solo e trato gastrointestinal de ruminantes, é aerotolerante, imóveis e seus esporos raramente são demonstrados.
- ETIOLOGIA
As C.perfringens são gram-positivos, medem geralmente , de 0,8 a 1,5 µm de diâmetro e 2 a 4 µm de comprimento, com extremidades arredondadas. Os esporos são ovais e pequenos e não costumam deformar a parede celular. Dificilmente observa-se esporulação nos tecidos. O agente também não apresenta flagelos.
| Clostridium perfringens | ||||
| Tipo | Toxinas Principais | |||
| Alfa | Beta | Épsilon | Iota | |
| A | + | – | – | – |
| B | + | + | + | – |
| C | + | + | – | – |
| D | + | – | + | – |
| E | + | – | – | + |
Tabela 1 – Sorotipagem de Clostridium perfringens de acordo com a produção das quatro toxinas principais (alfa, beta,épsilon e iota). Fonte: Diniz, A. N. Clostridium perfringens e Clostridium difficile em relação a outros enteropatógenos em cães diarreicos, 2016.
Clostridium perfringens é subdividido em 5 sorotipos: A,B,C,D e E, baseado nas toxinas extracelulares produzidas, as chamadas toxinas alfa, beta, épsilon e iota. Estas são as quatro principais toxinas letais (α,β,ε, ι), de maior ação patogênica. Cada um desses tipos produz toxinas menos patogênicas (menos letais). Além destas quatro toxinas, o microrganismo produz pelo menos outros 11 tipos de toxinas, estas podem ser produzidas isoladamente ou em associação, conforme o tipo de C. perfringens e a sua virulência.
Toxina α – A toxina α é o principal fator de virulência da gangrena gasosa e da enterite necrótica. Tem atividade enzimática de fosfolipase C e de esfingomielinase. É levemente termoestável e antigênica, logo pode ser utilizada como toxóide na produção de vacinas. Sua ação se baseia em hidrolisar fosfolipídeos (especialmente esfingomielina e lecitina) e promove a desorganização da membrana celular. Apresenta também ação hemolítica e dermonecrótica. A hidrólise da lecitina resulta na molécula de diacilglicerol, este por sua vez ativa a proteinoquinase C, estimulando as fosfolipases celulares e a cascata de ácido araquidônico, promovendo a síntese e liberação de mediadores pró-inflamatórios. Esses mediadores induzem a contração dos vasos sanguíneos, aumento da permeabilidade vascular, agregação plaquetária e a disfunção miocárdica, contribuindo para para o choque profundo e morte nas enfermidades envolvidas. Todos os tipos de C. perfringens produzem a toxina α, porém a quantidade da mesma variação.
Toxina β – As toxinas β e β2 induzem necrose hemorrágica da mucosa intestinal em inoculações experimentais. Têm atividade citotóxica e acredita-se que é por conta da formação de poros na membrana celular, podendo funcionar como neurotoxinas e resultar em vasoconstrição arterial. A toxina β é o principal fator de virulência de C. perfringens tipos B e C. Animais recém-nascidos ou que sofrem de deficiências nutricionais são os mais susceptíveis à infecção por C. perfringens tipos B e C.
Toxina ε – É a mais potente das toxinas depois da botulínica e tetânica. Esta toxina é produzida como protoxina e é ativada em contato com enzimas proteolíticas, como tripsina e quimiotripsina, além de uma zincometaloprotease produzida pelo C. perfringens no trato gastrointestinal. Exerce ação na membrana celular, não sendo internalizada pela célula levando a edema, vacuolização, fragmentação e lise celular. A toxina ocasiona rápida necrose celular e, secundariamente, perda de ATP, permeabilização da membrana celular e difusão iônica. Ela é letal, dermonecrótica e tem a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica e alojar-se no cérebro.
Toxina ι – É uma toxina que necessita do efeito de proteases do trato gastrintestinal para penetrar na célula. Ela atua formando poros, com saída de Na e K, e a penetração da toxina na célula, que despolimeriza os filamentos de actina, levando á destruição celular. Ela é dermonecrótica, citotóxica e enterotóxica, induzindo lesão no trato gastrointestinal.
Enterotoxina – Esta toxina apresenta atividade letal, citotóxica e enterotóxica, sendo responsável por diarreias em suínos, ovinos, bovinos, equinos, aves e caninos. É formadora de poros na membrana celular, fato que aumenta a secreção de fluidos no lúmen intestinal, reduz a absorção de glicose e leva á descamação das células epiteliais da mucosa intestinal. Ela é produzida quando o agente esporula e se mostra resistente a enzimas proteolíticas.
Toxina θ – Esta toxina se liga ao colesterol e causa hemólise das hemácias por formçaõa de oligômeros que logo após, constituem poros na membrana celular. Unida à toxina α, dificulta a migração de neutrófilos ao local de infecção e desregula as células endoteliais. A lesão causa edema e isquemia, o que reduz o fornecimento de oxigênio e favorece a multiplicação de C. perfringens. É conhecida também como perfringolisina O e induz a liberação de histamina e aumento de permeabilidade vascular, além de provocar lise de eritrócitos de várias espécies de animais, tendo ação letal, necrosante e cardiotóxica.
Toxina δ – É hemolítica e citolítica. A toxina se liga ao receptor de células que expressam gangliosídios GM2, levando à formação de poros. Apesar da toxina se ligar ao receptor, esta não invade a célula. Embora a toxina seja produzida por C. perfringens do tipo C, não tem envolvimento na patogenicidade da enterotoxemia.
Toxina κ – Tem atividade de colagenese e gelatinase, catalisando a região não polar da molécula de colágeno. Esta toxina é produzida por todos os tipos toxigênicos, apresentando ação letal e necrosante e quando administrada por via parenteral em cobaias, causa destruição extensiva do tecido conectivo e hemorragia pulmonar.
- EPIDEMIOLOGIA
A ocorrência da enfermidade depende da suscetibilidade dos animais e das condições de manejo e alimentação. A doença predomina em ordem decrescente, em pequenos ruminantes, grandes ruminantes, equinos, coelhos, galinhas e suínos.
Na tabela abaixo são apresentados os principais tipos de C. perfringens e as enterotoxemias correspondentes a cada tipo toxigênico.
| Tipo toxigênico de C. perfringens | Espécies acometidas por enterotoxemias |
| A | Bezerros (enterites graves) e leitões (enterite branda) |
| B | Potros, ovinos e caprinos (enterotoxemia) além de cordeiros (disenteria) |
| C | Ovinos (enterotoxemia) potros e bezerros (enterotoxemia hemorrágica neonatal) |
| D | Ovinos, caprinos e bovinos (enterotoxemia) |
| E | Bovinos (enterotoxemia) |
Tabela 2 – Tipos toxigênicos de C. perfringens e as suas respectivas enterotoxemias em espécies susceptíveis. Fonte: Megid et al. Doenças infecciosas em animais de produção e de companhia, 2016.
Em animais mais jovens, o principal tipo toxigênico é o C. Já em animais mais velhos, observa-se maior prevalência do tipo D, seguido pelos tipos A e B.
As enterotoxemias podem ser classificadas em: as que acometem animais jovens e as enzoóticas. As que acometem animais jovens podem ocorrer em animais recém-nascidos por conta da aquisição de flora toxigênica, modificação fisiológica do intestino do animal no início da amamentação, excesso de leite, disenteria ou mudanças bruscas na alimenção, como por exemplo, o desmame. C. perfringens, E. coli e estreptococos são os primeiros microrganismos a colonizar o sistema gastrointestinal destes animais, por via oral, através da amamentação. Porém o C. perfringens do tipo C não é um destes primeiros microrganismos e quando em condições ideais, esta bactéria se prolifera e produz toxinas, especialmente a α e β. A toxina β de C. perfringens é bastante sensível à digestão por tripsina e por isso neonatos com baixo níveis de tripsina são mais susceptíveis à infecção por C. perfringens que produzem a toxina β, representados pelo tipo B e C.
Em suínos, C. perfringens do tipo A e, principalmente do tipo C, encontram-se em pequena quantidade no intestino de animais sadios, mas a presença de coccídios, infecção pelo vírus da gastroenterite transmissível dos suínos, rotavírus, entre outros patógenos intestinais, propiciam a colonização desses clostrídios no trato gastrointestinal dos leitões. A principal fonte de transmissão das bactérias para os leitões é o intestino da porca, fato que expões os animais logo nos primeiros dias de vida. A doença é mais comum em animais de 3 dias de via e pode afetar leitões com até 12 horas de vida. Animais com mais de 1 semana de vida não são afetados e em rebanhos não vacinados, observam-se surtos que podem acometer todas a ninhadas, resultando em 100% de letalidade dos leitões de fêmeas não vacinadas e 50% de mortalidade do rebanho.
Quanto às enterotoxemias enzoóticas, estas ocorrem por uma combinação de fatores predisponentes. As causas mais recorrentes são dietas pobres em celulose e ricas em proteínas e glicose, superalimentação e mudanças bruscas na dieta. Nestes casos, ocorrem transtornos digestivos por conta da lenta acomodação da flora ruminal e dos intestinos e acúmulo de proteínas e carboidratos não digeridos no intestino delgado. Essas alterações metabólicas, aliadas à alcalose produzida e à hipotonia intestinal, favorecem condições de anaerobiose e multiplicação destes microrganismos e, consequentemente, de suas toxinas.
A doença é frequente em criatórios de cordeiros e bezerros, tendo mais prevalência com a intensificação do uso de concentrado e rações proteicas. Tem sido diagnosticada, de modo crescente, em animais adultos.
Em suma:
- As enterotoxemias podem ser divididas em as que acometem animais jovens e as enzoóticas;
- É uma doença que acomete normalmente animais jovens, com bom escore corporal e rápido desenvolvimento;
- Bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos e os humanos são susceptíveis aos efeitos das toxinas produzidas pelo microrganismo;
- Alterações do ambiente intestinal predispõem a ocorrência da enfermidade como por exemplo mudança brusca na dieta, com a administração de elevados níveis de carboidratos, proteínas, desmame e pastagens luxuriantes;
- Estas alterações da flora ruminal e passagem de alimentos não digeridos para o intestino delgado propiciam um meio favorável para a multiplicação do clostridium e consequente produção de toxinas;
- Por ser uma enfermidade de curso clínico agudo, a observação de sinais clínicos pode ser difícil.
- PATOGENIA
Os C. perfringens presentes no trato gastrointestinal dos animais, em condições favoráveis para seu desenvolvimento exacerbado (mudança brusca na dieta, alimentos ricos em carboidratos e proteínas e pobres em celulose, gastroenterites, alterações no trânsito da ingesta), se multiplicam e produzem toxinas. A toxina β produzida pelo C. perfringens do tipo C tem efeito citotóxico, lesionando as microvilosidades intestinais, degeneração, e ainda, necrose de enterócitos e de vasos da lâmina própria. O clostrídio penetra no epitélio lesado e se adere à lâmina basal, estendendo a lesão, causando necrose e trombose dos vasos sanguíneos da submucosa. Consequentemente à esta lesão, a permeabilidade intestinal aumenta e ocorre extravasamento de proteínas no lúmen intestinal, o que resulta em enterite hemorrágica e absorção sistêmica de toxinas, levando o animal a toxemia, choque e morte. As toxinas podem causar somente lesões locais, como petéquias e sufusões em pulmão, epicárdio, endocárdio e mesentério. A enterotoxina liberada pelos clostrídios A, C e D induz aumento de permeabilidade celular, desintegração do citoesqueleto e lise celular. Já a toxina α, destrói células locais, com inflamação e liberação de substâncias químicas ativas, sendo uma destas a pirexina, que atua no hipotólamo, aumentando a temperatura corporal.
A ação hemolítica da toxina diminui o oxigênio em centros nervosos, causando astenia, depressão e incoordenação. Ademais a toxina atua em mastócitos, liberando histamina, serotonina e acetilcolina, o que leva a edema pulmonar com transtornos respiratórios e no sistema nervoso central. As toxinas absorvidas no sistema nervoso central determinam edema e degeneração cerebral, lesões que se manifestam pelo quadro neurológico nos animais. Outras alterações causadas pelas toxinas levam à edema, degeneração celular e necrose em vários órgãos, como pulmões, coração, rim (principalmente o C. perfringens tipo D, que faz com que o rim se apresente polposo), fígado e Sistema Nervoso Central.
- EVOLUÇÃO E SINAIS CLÍNICOS
O quadro é bastante agudo com os sintomas podendo ocorrer de 2 horas até 3 dias e a morte ocorrendo entre 1 e 3 dias. Em neonatos e animais em fase de desmame, pode-se observar morte súbita, sem sintomatologia. Porém, os animais podem apresentar diarreia com ou sem sangue, intensa dor abdominal, desidratação, febre, apatia e sinais neurológicos. Os sinais neurológicos podem ser: andar cambaleante, desequilíbrio, convulsões, movimentos em pedalagem, tremores musculares, mugidos excessivos, hiperestesia, cegueira, bruxismo, nistagmo, ato de pressionar a cabeça em obstáculos, manias, opistótono, evoluindo para óbito.
Em animais adultos nota-se que as manifestações clínicas mais frequentes são: apatia, contração involuntária de massas musculares, incoordenação motora evolutiva (levando a decúbito esternal e, logo após, decúbito lateral), paralisia, tremores, dispnéia com presença de secreção espumosa nas narinas, prostração e óbito. Nestes casos, surtos estão relacionados a mudanças bruscas na dieta, com grande número de animais afetados.
Em ovinos, a manifestação é superaguda quando estes são infectados por C. perfringens do tipo B. O animais apresentam fortes dores abdominais associada a ingestão reduzida de colostro ou leite e podem ter fezes mais amolecidas e avermelhadas. Os animais que sobrevivem mais de dois dias podem desenvolver encefalomalacia focal simétrica, por conta da ação da toxina ε. Esta lesão pode ser observada também em ovinos infectados por C. perfringens do tipo D (causador da doença do rim polposo), associada a quadros de enterite, hemorragia e ulceração do intestino delgado. Existem relatos deste quadro da doença em caprinos e ovinos adultos no Irã.
Existe também uma manifestação clínica da doença chamada Doença do rim polposo.
- ACHADOS DE NECROPSIA
Em casos superagudos, lesões características podem não ser observadas, podendo ocorrer somente líquidos em cavidade peritoneal, torácica e/ou pericárdica, além de edema pulmonar com acúmulo de líquido na traqueia ou nos brônquios. As lesões predominam do intestino delgado, principalmente no jejuno, mas ceco e cólon também podem se mostrar alterados em alguns animais. Em casos mais graves observam-se intensa congestão de mesentério e enterite catarro-hemorrágica, principalmente em duodeno e jejuno e enterite fibrinonecrótica com presença de gás e sangue em conteúdo intestinal. Cólon e ceco apresentam-se com a serosa avermelhada e às vezes edematosa com conteúdo líquido de coloração verde-escuro ou avermelhado. Os linfonodos mesentéricos podem estar aumentados de volume e hemorrágicos.
Na necropsia em geral os animais se apresentam em bom escore corporal. Os rins se apresentam congestos e de consistência amolecida (edema e nefrose), com sinais de autólise, mesmo que a necropsia seja realizada imediatamente após a morte do animal. O rim com estas condições é chamado de rim polposo. Nos órgãos respiratórios pode haver traqueia com grande quantidade de espuma em seu lúmen, congestão pulmonar. Ademais, há a congestão hepática com vesícula biliar espessa e repleta por conteúdo líquido, com grumos de fibrina e cavidades com fluidos com aspecto de coagulado. No sistema nervoso central, o exame evidencia edema cerebral com consequente herniação do vermes do cerebelo em direção ao forame Magnum e encefalomalacia focal simétrica ¹.
Microscopicamente, as vilosidades que foram danificadas pelas exotoxinas de C. perfringens estão desbotadas e acelulares, observando-se apenas arcabouços contraídos de lâmina própria. Essa alteração lembra autólise. Necrose de coagulação pode destruir metade ou a totalidade das vilosidades da mucosa do intestino delgado. As criptas usualmente permanecem intactas, mas parecem dilatadas. A mucosa intestinal pode estar edematosa, hemorrágica ou preenchida por uma resposta leucocitária aguda (neutrófilos). As camadas musculares estão estendidas e adelgaçadas e contêm vasos congestos.
¹ – ao coletar o material do encefálo é importante que ele seja enviado com seus dois hemisférios, para que o anatomopatologista possa avaliar se a lesão ocorre nos dois lados (bilateral) ou não, e se são simétricas.
- DIAGNÓSTICO
O diagnóstico clínico da enterotoxemia em geral é realizado com base nos dados epidemiológicos e sinais clínicos, assim como os achados laboratoriais e de necropsia. Ao contrário de outras clostridioses, a detecção dos agentes não confirma o diagnóstico da enfermidade. Portanto, para confirmação da patologia é necessária a detecção de toxinas em grande quantidade do conteúdo intestinal de animais acometidos através das técnicas de neutralização de toxinas em camundongos ou de ELISA. Coloração de Gram do conteúdo intestinal, buscando grande quantidade de clostrídios, achados de necropsia e histopatologia auxiliam no diagnóstico.
Reações de PCR, que detectam a presença dos genes codificadores da toxina de C. perfringens, possibilitam a caracterização de qual tipo de C. perfringens está envolvido no caso. Para detecção, o conteúdo gástrico (refrigerado ou congelado) deve ser encaminhado. Além disso, fragmentos do intestino delgado ou conteúdo intestinal devem ser enviados para cultivo, identificação e PCR. Em casos de enterotoxemia por C. perfringens do tipo D, é imprescindível a realização da histopatologia do cérebro, concomitantemente ao diagnóstico da toxina ε.
Na tabela abaixo estão descritas as amostras que devem ser coletadas e seu acondicionamento para envio e os testes recomendados para o diagnóstico da enfermidade.
| Amostra | Acondicionamento e envio | Teste diagnóstico | Significado do diagnóstico |
| Cérebro | Formol tamponado a 10% | Histopatologia | Confirma a doença em caso de edema perivascular proteináceo (microscopia) ou encefalomalacia focal simétrica (macroscopia). A ausência destas alterações não exclui a possibilidade diagnóstica. |
| Cólon | Formol tamponado a 10% | Histopatologia | Altamente sugestivo de enterotoxemia em caprinos nas manifestações agudas e crônicas |
| Esfregaços de mucosa intestinal | Secos a temperatura ambiente | Coloração de Gram | Sugestivo de todas as espécies desde que se tenha grande número de clostrídios |
| Conteúdo de intestino delgado (50 ml) | Refrigerado ou congelado retirado do lúmen intestinal | Detecção de toxina |
Toxina α: compatível para o tipo A; Toxina β e ε: Confirmatórias para o tipo B; Toxina β: Confirmatória para o tipo C Toxina ε: Confirmatória para o tipo E; Toxina ι: Confirmatória para o tipo E. |
| Esfregaço de intestino delgado ou conteúdo intestinal | Refrigerado | Cultivo anaeróbico seguido de tipificação (PCR ou provas bioquímicas) | Confirmatório para enterotoxemia nos casos de isolamento com elevada concentração dos tipos B, C ou D; compatível com isolamento em elevada concentração do tipo A. |
Tabela 3 – Amostras que devem ser coletadas e seu acondicionamento para envio e os testes recomendados para diagnóstico da enterotoxemia. Fonte: Megid et al. Doenças infecciosas em animais de produção e de companhia, 2016.
- TRATAMENTO
A enterotoxemia deve ser tratada de maneira que trate todo o rebanho ou na granja acometida, utilizando antibióticos na água ou na ração. Nestes casos, recomenda-se a administração de tetraciclina a 100 g/t de ração, bacitracina a 250 g/t ou virginiamicina a 50 g/t de ração por 5 a 7 dias. Para porcas, preconiza-se antibioticoterapia profilática 2 semanas p´re-parto.
Os tratamentos individualizados normalmente não são viáveis por conta de os casos serem de tempo de evolução superagudo. Porém quando é possível o tratamento pode-se utilizar:
- Tetraciclina – 10 a 20mg/kg/animal BID por 5 a 7 dias;
- B1 – 10 a 20mg/kg, IM ou SC;
- Dexametazona – 0,2mg/kg BID, IV ou IM;
Os últimos três tópicos acima são preconizados em casos de animais suspeitos de encefalomalácia.
Ademais, é importante associar a estes medicamentos a antitoxina, sendo esta administrada em todos os animais após o início do surto, garantindo uma proteção de 21 a 29 dias.
- CONTROLE E PROFILAXIA
A profilaxia das enterotoxemias baseia-se em medidas inespecíficas que visam reduzir a possibilidade de multiplicação de C. perfringens no trato gastrointestinal dos animais.
Consistem basicamente em:
- Bom manejo nutricional;
- Mudança gradual na alimentação;
- Dieta com mais fibras e menos grãos.
Já a profilaxia específica consiste em vacinação anual dos animais (com vacina polivalente contendo toxóides) e a vacinação de fêmeas prenhes 1 mês antes do parto, para conceder a imunidade passiva aos filhotes. Fêmeas gestantes que nunca foram vacinadas devem ser imunizadas 4 e 2 semanas antes do parto.
A proteção vacinal pelas vacinas comerciais é bastante discutida, por sua variação, e muitas vezes animais vacinados podem ter a enfermidade. Porém, filhotes de mães vacinadas são protegidos pelo colostro por 3 a 4 meses após o nascimento, sendo assim, a primovacinação deve ocorrer após este período.
- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Raiva;
- Poliencefalomalácia;
- Louping ill, doença viral que acomete ovinos e é transmitida principalmente pelo carrapato Ixodes ricinus;
- Pasteurelose, salmonelose, eimeriose, colibacilose;
- Hipocalcemia, hipomagnesemia, que também causam sinais neurológicos;
- Toxemia da prenhez, afecção metabólica em caprinos e ovinos, que culmina com sintomas nervosos e digestivos e frequentemente leva o animal à óbito;
- Intoxicação por chumbo;
- Polioencefalomalácia;
- Encefalopatia hepática.
- REFERÊNCIAS
DINIZ, A. N. Clostridium perfringens e Clostridium difficile em relação a outros enteropatógenos em cães diarreicos. 2016.
GIEGER, S. e FURMAGA, E. Flavivirus (louping ill). USGS National Wildlife Health Center. OIE Technical Disease Cards. 2020. Disponível em:< https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/flavivirus-causing-louping-ill-infection-with.pdf>. Acesso em 10/07/2021.
LINZMEIER, L. G., AVANZA, M. F. B. Toxemia da prenhez. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Garça – FAMED/FAEF. Editora FAEF. Ano VII, Número 12. Janeiro de 2009. Disponível em: <http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/mvTOiRLlk4YAoKa_2013-6-21-16-9-33.pdf>. Acesso em 10/07/2021.
LOBATO, F.C.F. et al. Clostridioses dos animais de produção Vet. e Zootec. 20ª (Edição Comemorativa): 29-48. 2013.
MEGID, J, RIBEIRO, M.G.PAES,A.C. Doenças infecciosas em animais de produção e de companhia, 1 ed., Editora Roca. Rio de Janeiro, 2016.
SANTOS L. M., ROCHA J. R., RODIGUES C. F. M., CANESIM R., PINHEIRO J. S., PINHEIRO JÚNIOR O. A. Carbúnculo hemático. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Garça FAMED/FAEF. Editora FAEF. Ano VI, Número 10. Janeiro de 2008. Disponível em: <http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/xcnEgwSWEHnk5RO_2013-5-29-10-51-49.pdf>. Acesso em 11/07/2021.
SLIDES DE AULA DO PROF DR MICHEL ABDALLA HELAYEL – DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS – CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.
ESTUDO DIRIGIDO (CLIQUE PARA BAIXAR)
MATERIAIS COMPLEMENTARES
DOENÇAS INFECCIOSAS ABORDADAS
MAPAS MENTAIS SOBRE AS DOENÇAS
ESTUDOS DIRIGIDOS SOBRE AS DOENÇAS
BIBLIOTECA DE MATERIAS COMPLEMENTARES
CONHEÇA OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS